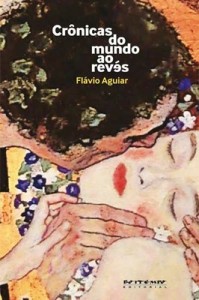|
 |
|
Advertência do Autor Como a nomenclatura das partes deste livro sugere, tudo aqui é muito difícil. E a principal dificuldade é distinguir o que é ficção do que é realidade. Está tudo misturado. Como na vida real. Afinal, não é essa a nossa condição de hoje, bombardeados continuamente por imagens e textos sobre cuja procedência e idoneidade não temos a menor idéia? desconhecemos no todo ou em parte a maioria das histórias em que somos protagonistas ou figurantes. No entanto, nem por isso deixamos de agir e de fazer escolhas, mesmo que seja a de se omitir, ou de sair de uma história para entrar em outra. A tópica do mundo ao revés designa formas e fórmulas literárias de tradição muito antiga, que expressam aquilo que, em tese, é impossível de existir, mas não impossível de dizer. Por exemplo: "no dia em que as vacas comerem carne". Ou numa frase que ficou famosa na história brasileira, "as cobras vão fumar antes do Brasil entrar na [Segunda] Guerra". Pois é, mas o fato é que na Europa as vacas se tornaram carnívoras e isso deu na síndrome da vaca louca; e o Brasil entrou na Guerra, levando como símbolo uma cobra com um cachimbo na boca. Uma das condições do mundo ao revés é não levar a sério demais quem narra. Assim se deve proceder aqui. Nenhum dos naradores deste livro se pauta pelo ideal do politicamente correto. Eu, o autor, sou responsável por todos eles. Mas isso não quer dizer que eu seja responsável pelo que eles pensam ou escrevem. Aqui se exerce de fato a liberdade de expressão. Posso não concordar com o que eles dizem, mas defenderei até a morte o direito deles dizerem o que quiserem. Aviso que não se deve esperar unidade de estilo. Cada narrativa tem seu próprio estilo, mais ou menos como somos hoje. Mal e mal nossa carteira de identidade consegue presumir que sejamos um ser unívoco. Ademais, como já disse, mesmo em terceira pessoa, cada história tem próprio narrador, o que dá a esse livro um ar de teatro de variedades. Em grande parte, essas histórias conduzem apenas à percepção do desconhecido. Assim que, leitora ou leitor, tiveste tua advertência. Daqui por diante ttu vais prosseguir por tua conta e risco. Os Três Mandamentos A E. e a J. – O que vou dizer pra vocês vai soar estranho, disse o capitão instrutor de tiro. – Usar uma arma, ele continuou, tem três mandamentos, tão sagrados como os dez de Deus. A voz dele era grave e rouca. Era grisalho. E ele olhava a gente nos olhos. – Primeiro mandamento: nunca apontem a arma para ninguém. Parece estranho, não é? Mas é por causa do segundo mandamento: quem apontar é melhor estar a fim de atirar. E aí vem o terceiro: é preciso saber atirar e, se atirar, atirar para matar. Esqueçam aquilo de atirar na mão, no ombro, no braço, na perna. Isso é coisa de filme americano e história em quadrinhos. Deus queira que ninguém aqui precise fazer isso, mas, se vocês atirarem em alguém, atirem para matar. No peito. No meio do peito. Porque senão o outro mata vocês. Nem que seja mais tarde. Por que no meio do peito? Porque o que mata é a porrada da bala, que paralisa o coração. O outro morre de parada cardíaca. Ele se chamava Capitão Roberto. Estava em fim de carreira. Lutara na Força Expedicionária Brasileira, na Itália. Gostava de conversar, nas pausas do serviço. Ele me contou, e para mais alguns de nós, uma história, a sua história. Foi na Batalha de Castelnuovo. Num bombardeio dos alemães, ele se desgarrou do pelotão. Avistou uma cabana e correu para lá. Abriu a porta e deu de cara com um soldado alemão. Os olhos dele eram azuis, disse o capitão, que atirou primeiro e matou o outro. Depois foi ver: era um jovem, nem dezoito anos devia ter. É provável, disse ele, que a juventude tenha feito o alemão hesitar. Quem sabe? Ele sonhava com isso todas as noites. Acordava suando frio. Noite após noite. Assim começou minha instrução no uso de armas. E eu fui bom aprendiz. O importante não era acertar a mosca, no centro. A gente não estava aprendendo a atirar para concorrer em tiro ao alvo, ou para passar o tempo num parque de diversões. O importante era dar os tiros que a gente dava de cada vez no mesmo lugar, fosse em cima, embaixo, do lado ou no meio do alvo. Porque isso mostrava a firmeza no tiro, e era a primeira a coisa a aprender. Para atirar, era preciso saber segurar a arma com firmeza e apertar de leve o gatilho, sem puxá-lo com força. E manter o olho na reta entre a alça de mira e o alvo, um pouco abaixo do lugar visado, porque com o soco do disparo a arma levantava um pouco, sempre. Se fosse de pistola, a gente devia apoiar o pulso da mão que segurava a arma no pulso da outra mão. E nada daquilo que os mocinhos faziam no cinema, atirando com a arma na altura da cinta. Aquilo era piada, dizia o capitão. Bom, hoje tudo mudou, com essas armas que apontam a bolinha vermelha do raio laser para o alvo. Mas o princípio da firmeza ficou igual. O capitão seguiu seu rumo, eu segui o meu. Nos cruzamos no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, o CPOR, de Porto Alegre. Era no começo de 1965. Ele se reformou, foi trabalhar na empresa privada. Eu entrei na universidade. E na política. Política? Na luta armada contra a ditadura, quero dizer. Por que entrei? Ideias? Sim, ideias. Mas eu achava, além das ideias, que quem não ia até o fim era covarde. E ir até o fim era pegar em armas. Fui para São Paulo, depois o Rio de Janeiro. Participei de ações importantes. Dei apoio ao sequestro de um embaixador para trocá-lo por prisioneiros políticos que eram torturados e podiam ser assassinados. Qual embaixador? Não importa. Não quero entrar em detalhes. Mas os tempos apertaram. E a organização a que eu pertencia começou a se desfazer. Os companheiros começaram a cair, um atrás do outro. Restamos umas poucas células, uns poucos quadros. Numa noite, eu e mais três de minha célula tomamos uma resolução: sair do país. Estávamos isolados, não tínhamos mais contato com o comando, nem com outros companheiros. Depois, talvez, voltar. Mas para sair precisávamos de dinheiro. Imaginamos uma ação ousada. Nada de expropriar um banco. Isso era manjado. Imaginamos o cofre de uma empresa. Naquele tempo, sem computadores e sem dinheiro virtual, o importante era o cofre. Lá estavam os dólares ilegais, não declarados, as verdinhas, a grana preta, como se dizia. E assim foi. Entrar na empresa foi fácil. Não havia detectores de metal. Ir até a gerência, render o gerente, os seguranças, tudo isso foi rápido. O gerente tremia, mas conseguiu abrir o cofre, e pegamos a grana. Aí, era preciso sair. Isso foi difícil. Outros seguranças vieram, mais experientes, não treme-tremes como os primeiros. Veio o apoio da polícia. Houve tiroteio. Os outros três companheiros ficaram para trás, perdidos. Depois eu soube que um morreu, e os dois outros foram presos. Passaram o diabo na tortura. Mas sobreviveram. Hoje um é agente do Ibama em Macapá e o outro virou pai de santo na Casa Verde, em São Paulo. Estão bem, parece. Mas nunca mais nos vimos. Nem eles sabem de mim, só eu deles. Eu embarafustei por uma porta em direção aos fundos, não à frente do prédio, onde a guarda e a polícia bloqueavam o caminho, e consegui chegar até uns muros, atrás. Quando me preparava para subir nuns caixotes e pular, ele apareceu. O Capitão Roberto. Ele trabalhava naquela firma. Depois eu soube que era o chefe da segurança. Os nossos olhos se cruzaram. Num relance, eu atirei primeiro. No meio do peito, como ele me ensinara. O tranco da bala mata o cara. Faz o coração parar. Pulei o muro, me fui, me perdi na cidade, no país, no mundo. Ele morreu. Tempos depois, um psicólogo que me atendeu me explicou que talvez a minha juventude detivera a mão dele. Quem sabe a história que ele tinha vivido na Itália cobrou seu preço? Aquele fulgor de olhar que ele vira nos olhos do outro e que deve ter visto no meu. Vá se saber. Consegui fugir do país com a grana que eu levei. Fui primeiro para o Uruguai. Acabei na França. Meu nome verdadeiro nunca apareceu em processo algum, só o falso, de guerra. Os companheiros presos ou seguraram, ou não sabiam mesmo quem eu era de verdade. Mas mudei de nome, consegui papéis. Na Europa, naquele tempo, era mais fácil. Consegui um emprego, casei, tenho família. Minha mulher sabe de toda a história, nossos filhos ainda não. Talvez um dia eu lhes conte tudo, para terminar de desabafar. Por quê? Porque herdei o sonho do capitão. Todas as noites, eu e ele nos vemos diante daquele muro. Eu atiro, ele morre. Mas como um vampiro, ele renasce na noite seguinte. Ou será que sou eu o vampiro? Estou para me aposentar. Sou – que ironia! – chefe de segurança de uma usina nuclear. Na nossa empresa há uma rotatividade constante. Assim, seguido recebo uma turma de novatos. Aos que usam armas, que ficam nas portas, nas entradas e saídas, às equipes de assalto e aos da manutenção das armas, até aos vigias do circuito de tevê, sempre começo dizendo: – Usar uma arma tem três mandamentos... É uma ironia, mas também uma homenagem. -------------------- |
Prêmio Fato Literário 2008

Saiba por que o CELPCYRO ganhou o PRÊMIO FATO LITERÁRIO 2008
e assista ao vídeo da cerimônia
Veja também...

Assista ao belo curta-metragem e ao Documentário sobre Cyro Martins realizados pela RBS TV

Reveja Cronologia do Centenário e momentos marcantes das comemorações


Prêmio Cyro Martins de Incentivo à Pesquisa
O FAZEDOR DE AURORAS
Por Jorge Adelar Finatto
por Flávio Aguiar
LIANA TIMM
Crônicas, poemas, obras de arte
blog e sarau literário

Literatura&Arte
"Leituras do Séc. XXI"